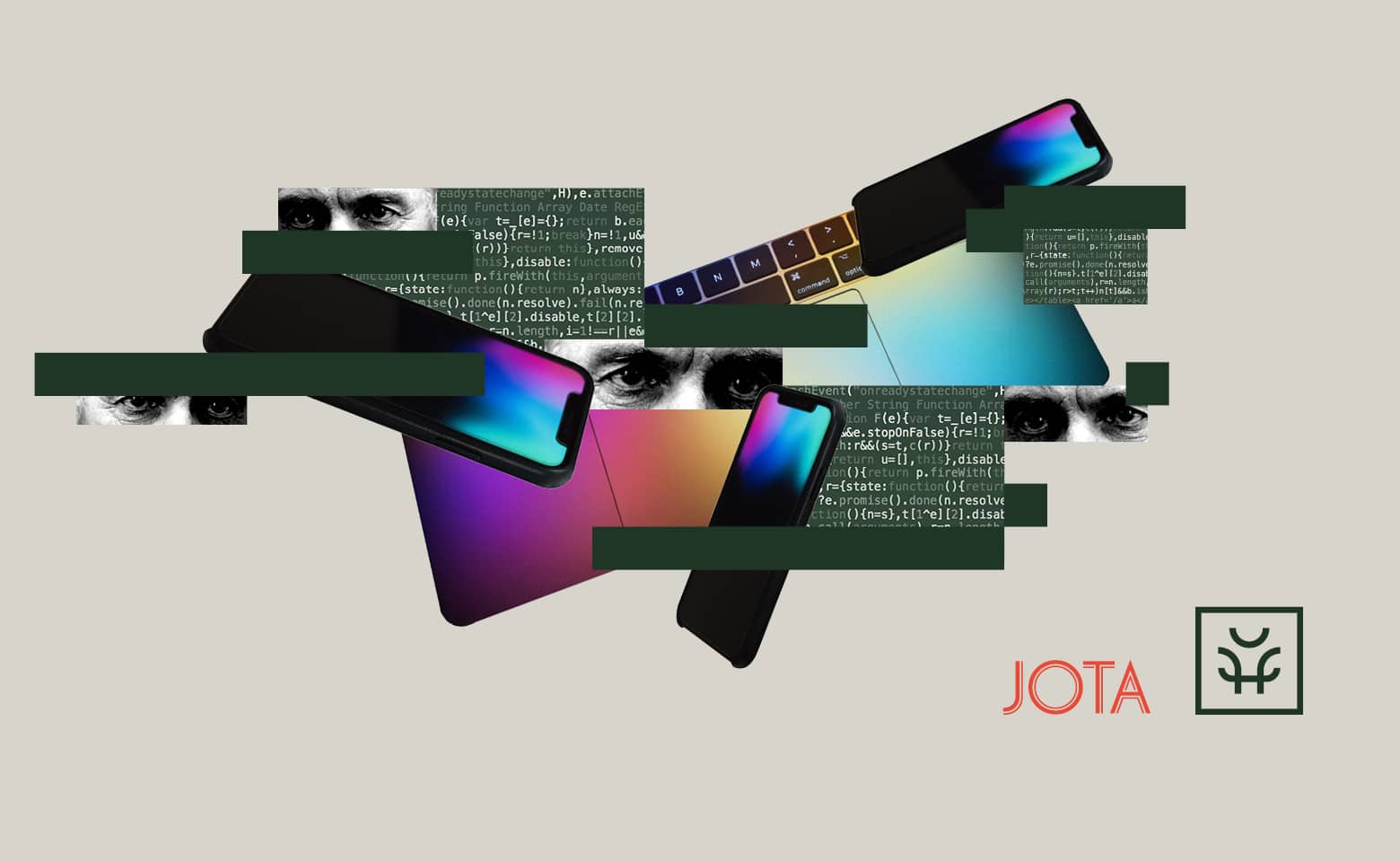Uma análise do contexto histórico envolvido na questão associada à tributação (ISS x ICMS)
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, que incide o ISS – e não o ICMS – sobre as operações de licenciamento e cessão de uso de software (ADIs nº 1.945 e nº 5.659).
O que chama a atenção na decisão é a drástica mudança de entendimento adotada pela Suprema Corte sobre o tema, fato que leva (ou deveria levar no médio/longo prazo) à insegurança jurídica (e não ao seu oposto) por parte das empresas atuantes no setor.
Neste sentido, o presente texto busca trazer o contexto histórico envolvido na questão associada à tributação (ISS x ICMS) na licença e cessão de uso de software para terceiros, com a finalidade de levantar a reflexão acerca da posição adotada pelo STF, nos autos das ADIs nº 1.945 e nº 5.659, e, com isso, refletir se, de fato, tal entendimento jurídico é eficiente às partes envolvidas na relação tributária, bem como se está em conformidade com a hipótese de incidência destes tributos.
De início, deixamos claro que ao nosso ver houve um avanço sob a ótica de política fiscal, uma vez que o entendimento adotado é relevante, no curto prazo, para as empresas de tecnologia, assim como os seus stakeholders, como forma de se ter, ao menos, uma confirmação de qual tributo incide no licenciamento e cessão de uso de software.
Referido entendimento facilita e incentiva, inclusive, o retorno do capital estrangeiro ao mercado de tecnologia brasileiro, ao reduzir a quantidade de horas necessárias para o cumprimento de obrigações fiscais, assim como a respectiva carga tributária (até o momento).
No entanto, o contexto histórico sobre o assunto também demonstra que, apesar desse “primeiro olhar” de que a decisão traz segurança jurídica, a questão não é tão simples quanto aparenta ser.
Contexto
Na década de 1990, os bens digitais começavam a se propagar com maior escala no país. Eram os primeiros passos da economia digital. Paralelamente, a legislação fiscal que vigorava à época já seguia as diretrizes daquela verificada atualmente, haja vista que estava em vigor a CF/88.
No que tange ao ISS, vigoravam as disposições da Lista de Serviços do Decreto-Lei nº 406/1968, que descrevia, entre outras, as seguintes atividades como sujeitas ao imposto municipal:
- “ Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros incisos desta lista, organização, programação, planejamento, assessoria, processamento de dados, consultoria técnica, financeira ou administrativa; e
- “ Análises, inclusive de sistemas, exames, pesquisas e informações, coleta e processamento de dados de qualquer natureza” (g.n.)
Em relação ao ICMS, já estava em vigor a Lei Complementar nº 87/1996, que tem a definição acerca da incidência do imposto estadual da seguinte forma (ICMS-Mercadoria): “operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares” (artigo 2, I – g.n.). Viu-se, neste momento, a existência de uma zona de convergência entre Estados e Municípios acerca da responsabilidade pela regulamentação, cobrança e recolhimento dos tributos aplicáveis às atividades de tecnologia.
Em 1998, o STF, ao analisar o conflito de competência entre Estados e Municípios nas operações de licenciamento e cessão de uso de software, conferiu a definição que foi adotada pelo setor de tecnologia ao longo dos últimos anos (RE nº 176.626 – STF):
- Software de prateleira: (i) produzido em larga escala e de forma padronizada; (ii) não desenvolvido para atender cliente específico; e (iii) vendido para o público em geral, sem qualquer distinção;
- Software sob encomenda: desenvolvido e programado para atender necessidades específicas de cada cliente.
O raciocínio adotado pela Suprema Corte, à época, era de que os “softwares de prateleira” estavam inseridos dentro de uma cadeia mercantil e, por serem comercializados em larga escala, detinham as características de uma mercadoria. Em contrapartida, adotou-se o posicionamento de que os softwares desenvolvidos individualmente para cada cliente (“Taylor made”) possuíam a natureza jurídica de uma prestação de serviços.
À época do julgamento do RE nº 176.626, as empresas do setor costumavam comercializar produtos padronizados por meio de mídias físicas (CDs e Disquetes). Eram raras, ainda, as situações em que se verificavam a aquisição da licença mediante download (e o streaming nem era uma opção), bem como a contratação de empresas para o desenvolvimento de softwares específicos (à época primordialmente as grandes empresas e as multinacionais que detinham capital e tempo para investimentos dessa natureza).
Além disso, no julgamento, se levantou a questão de que o software deveria receber um tratamento diverso da mercadoria (dada a sua intangibilidade), assim como a sua operação se distinguiria de um compra e venda, haja vista que não haveria uma efetiva transferência de titularidade dos bens.
Não obstante, a Suprema Corte optou por adotar a seguinte definição: (a) incidência do ICMS nas operações com “softwares de prateleira”; e (b) incidência do ISS nas operações com “software sob encomenda”.
Parecia que a discussão estava resolvida. Ocorre, contudo, que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 116/2003, as operações de bens digitais passaram a constar de forma mais detalhada na legislação. Assim, entre as atividades sujeitas ao ISS, estava expresso “o licenciamento e a cessão do uso de software” (que, convenhamos, já estava disposta de forma “macro” no DL 406/1968, mas foi motivo para alteração da dinâmica fiscal do mercado).
Tal fato trouxe uma outra abordagem por parte dos municípios na forma de exigir o ISS nessas operações.
Neste momento, como alguns estados somente cobravam o ICMS nas operações com os denominados “softwares de prateleira” sobre o valor do “suporte físico” (i.e., caixinha, disquete, CD), e desconsideravam o valor do bem intangível (software) para calcular o imposto – os contribuintes defendiam a incidência do imposto estadual nesta operação. A título de curiosidade, trazemos a exposição de motivos do Decreto nº 51.619/2007 do estado de São Paulo, que dispunha sobre a base de cálculo do ICMS nas operações com “software de prateleira”:
“Com fundamento no artigo 112 da Lei n° 6.374, de 1° março de 1989, que autoriza o Poder Executivo a tomar providências fiscais que resguardem a competitividade da economia paulista, a medida, nos termos propostos, considera como base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação realizada com programa para computador (“software”), personalizado ou não, o valor equivalente a 200% (duzentos por cento) do suporte informático, o que atende à sugestão do setor, preocupado com o estabelecimento de critério objetivo na sua adoção.”
Com o avanço da tecnologia, os Estados perceberam que estavam deixando de ter uma arrecadação significativa com essas operações, dado que os softwares não eram mais comercializados por meio físico, mas, sim, digital. Paralelamente, os Municípios também se mobilizavam e começaram a sustentar que o licenciamento e a cessão de uso de software, por meio digital, estariam inseridos na competência municipal, definida pela LC 116/2003.
Vê-se, portanto, que a digitalização da economia gerou um crescente interesse arrecadatório dos Estados e Municípios a fim de “abocanhar” a maior fatia possível dos tributos resultantes do desempenho das atividades associadas à economia digital. Em contrapartida, os Poderes Legislativo e Judiciário se omitiram (especialmente, o primeiro), optando por não se manifestar sobre o assunto (e, nas situações em que se manifestaram, não foram efetivos).
Mais adiante, em 2015, com a edição, pelo CONFAZ, do Convênio ICMS nº 181/2015 (e a revogação do Decreto nº 51.61/2007 pelo Estado de São Paulo), os Estados tentaram “correr atrás do prejuízo”, de forma que o imposto estadual fosse cobrado sobre o valor da operação (a qual incluiria na base de cálculo o valor do licenciamento e da cessão de uso do software).
Posteriormente, com a edição do Convênio ICMS 106/2017, os Estados reforçaram ainda mais a sua tese de que deveria incidir o ICMS sobre as operações de licenciamento e cessão de uso de softwares, ainda que realizado por meio digital (e.g. download).
Pois bem. Neste contexto foi proposta a ADI nº 5.659, recentemente julgada pelo STF, a qual analisou o contexto descrito acima, especialmente no que tange à constitucionalidade dos Convênios ICMS 181/2015 e 106/2017 editados pelo CONFAZ (os quais foram posteriormente incorporados pelos Estados).
Os principais argumentos expostos pelos entes federativos no âmbito desta ADI, na ocasião, foram os seguintes:
- Estados: o licenciamento e a cessão de uso de software, ainda que por meio digital, está inserido na definição de software de prateleira definida pelo STF. Além disso, a comercialização dos referidos bens, ainda que intangíveis, estão inseridos dentro de uma cadeia comercial, tornando as operações, neste contexto, suscetíveis à incidência do ICMS; e
- Municípios: as operações de licenciamento e cessão de uso de software estão inseridas na Lei Complementar nº 116/2003. O ICMS não seria o imposto a ser recolhido nas operações com bens intangíveis.
Não obstante, como dito acima, no recente julgamento, o STF mudou o entendimento, adotando a posição dos Municípios, de que é o ISS o imposto incidente sobre as operações de licenciamento e cessão de uso de software – pouco importando a natureza jurídica do produto e da operação.
A partir do contexto histórico descrito acima, o que pode ser aferido é que, na prática, ocorreu o desenvolvimento da tecnologia e, consequentemente, na forma de comercialização de bens digitais (entre eles, o software). Com as novas tecnologias, a comercialização dos produtos migrou da “caixinha” para o download. As megastores de programas de computador, videogames foram substituídas pelo SaaS e pela nuvem.
Não obstante, a interpretação dos instrumentos jurídicos associados ao licenciamento e a cessão de uso do software, sob a ótica fiscal, não tiveram mudanças significativas.
Isso porque, por mais que se alegue que a LC 116/2003 descreveu novos serviços de informática, quando falamos de licenciamento e cessão de uso, o que houve, na prática, foi o mero detalhamento das atividades descritas no Decreto-Lei nº 406/1968.
E assim deve ser. O direito é um retrato da sociedade e está em constante evolução, no entanto, determinados princípios, fundamentos e conceitos não podem ser alterados indiscriminadamente.
No que tange à tributação sobre o consumo, inclusive de software, quando novas modalidades de comercialização / transação são criadas, não se deveria ter dúvidas de quais seriam os tributos a serem exigidos.
Nesse sentido, as normas infraconstitucionais que discorrem sobre o assunto devem buscar abarcar as operações de forma geral e, ao mesmo tempo, de maneira genérica. Do contrário, sempre que se verificar uma nova forma de comercializar um produto nesta “nova economia”, sob o atual regime jurídico, haverá potencial discussão envolvendo conflitos de competência entre os entes, especialmente entre Estados e Municípios (considerando o modelo atual de tributação).
Neste sentido, o entendimento adotado pelo STF em 1998 é antagônico ao que foi adotado em 2021. Óbvio que há a possibilidade de mudança de entendimento por qualquer Corte. Ocorre, contudo, que além do setor de tecnologia ter sido desenvolvido, no país, sob a ótica fiscal, com base em determinada premissa (correta ou não), os disciplinamentos aferidos na CF devem ser resguardados.
Por fim, apesar da situação ter sido temporariamente resolvida, não é possível prever o futuro, e o constante e rápido desenvolvimento dos softwares fará surgir novas formas de comercialização e, por consequência, a tendência é que surjam outros conflitos de competência, levando à insegurança jurídica.
Com isso, o ideal seria rever o atual sistema tributário como um todo (sim, reforma tributária). Isto porque, na forma como atualmente está, se verificam diversos elementos de conexão entre os aspectos fiscais, que tende a reforçar a insegurança jurídica no país.